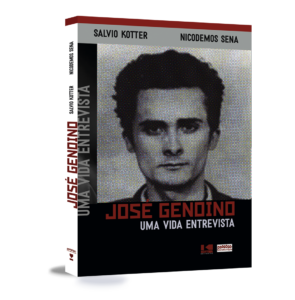Bancada comunista protesta contra cassação
Por Osvaldo Bertolino
A bancada comunista brilhou na sessão da Câmara dos Deputados de 29 de dezembro de 1947 quando o projeto de cassação dos mandatos comunistas foi a discussão. O Partido Comunista do Brasil, então com a sigla PCB, passava por uma dura perseguição, resultado do contexto de expansionismo do regime dos Estados Unidos, o imperialismo, conhecido como Guerra Fria, o anticomunismo da Doutrina Truman, formulada pelo então presidente norte-americano, Harry Truman. O registro do Partido havia sido cassado em 7 de maio daquele ano. Não demorou e a artilharia dos perseguidores dos comunistas mirou os mandatos dos eleitos pelo PCB.
Discursando em nome da bancada comunista, Carlos Marighella comentou que contradição mais absurda não poderia existir: cancelou-se o registro do Partido Comunista do Brasil, mas os representantes comunistas no parlamento continuavam defendendo o mesmo programa apresentado aos seus eleitores. O problema em si merecia outros comentários, disse Marighella, não fosse o fechamento do PCB uma decisão meramente política do Judiciário, sob a coação do Executivo. E já Rui Barbosa dizia: “Justiça política equivale a justiça de partido, justiça de interesse, justiça de desforra, justiça de crueldade.”
O Conselho Nacional do Partido Social Democrático (PSD), liderado pelo presidente da República, general Eurico Gaspar Dutra, reuniu-se a portas fechadas e decidiu criar uma comissão de cinco “juristas” para dar um parecer sobre a cassação dos mandatos comunistas, uma trama golpista denunciada pelo PCB como conjura na qual estavam envolvidos, entre outros, o chefe do Gabinete Militar do governo Dutra, Alcio Souto; o ministro da Justiça, Costa Neto; o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, o magnata da indústria paulista Morvan Dias de Figueiredo; e o famigerado Pereira Lira, o chefe de polícia.
A derrota eleitoral do PSD em São Paulo, com a eleição de Adhemar de Barros pelo Partido Social Progressista (PSP), atribuída pelo grupo à aliança com o PCB, acendera o sinal de alerta sobre o potencial dos comunistas nas eleições futuras. Diante da derrota do PSD, Dutra pensou em formar um novo partido, uma maneira de expurgar do seu projeto político a corrente getulista que se abrigava na agremiação partidária que herdara.
O líder pessedista na Câmara dos Deputados, Nereu Ramos, se opôs à ideia, alertando o presidente que o PCB representava um perigo maior. O plano era transformar o governo em algo parecido com o que fizera o ditador Higino Morínigo no Paraguai, sustentado em um sistema monopartidário. O PSD seria o Partido Colorado brasileiro. Para isso, o regime de força teria de ser restaurado e o principal empecilho precisava ser removido. O alvo estava definido: a bancada do Partido Comunista do Brasil. Para cassá-la, o senador Ivo de Aquino (PSD) apresentaria um projeto de lei.
Parábola de Monteiro Lobato
O PCB começou a se preparar para mais uma campanha de resistência. Comícios foram programados em diferentes pontos do país, muitos proibidos pela polícia. Em São Paulo, os líderes comunistas Pedro Pomar e João Amazonas discursaram no “comício da unidade democrática”, realizado no Vale do Anhangabaú em junho de 1947. “A política da reação é: depois de nós, o dilúvio”, disse Pomar. Segundo ele, Dutra poderia ser derrotado porque as condições internacionais não eram favoráveis à ditadura.
No comício foi lida a parábola História do Rei Vesgo, escrita por Monteiro Lobato especialmente para aquele evento. O povo ouviu:
Na frente do palácio de certo Rei do Oriente havia um morro que lhe estragava o prazer. Esse Rei, apesar de ser vesgo, tinha uma grande vontade de “dominar a paisagem”; vontade tão grande que ele não pôde resistir, e lá um belo dia resolveu secretamente arrasar o morro. Tratava-se, porém, de um morro sagrado, chamado o Morro da Democracia, e defendido pelas leis básicas do reino. Nem essas leis, nem o povo jamais consentiriam em sua demolição, porque era justamente o obstáculo que limitava o poder do Rei. Sem ele o Rei dominaria ditatorialmente a paisagem, o que todos tinham como um grande mal. Mas aquele Rei, que além de vesgo era malandro, tanto espremeu os miolos que teve uma ideia. Piscou e chamou uns cavouqueiros, aos quais disse:
— Tirem-me um pouco de terra desse morro, ali há umas touceiras de craguatá espinhento. Se o povo protestar contra a minha mexida no morro, direi que é para destruir o craguatá espinhento; e que se tirei um pouco de terra foi para que não ficasse no chão nem uma raiz ou semente.
Os cavouqueiros arrancaram os pés de craguatá e removeram várias carroças de terra. O povo não protestou; não achou que fosse caso disso. Só alguns ranzinzas murmuraram, ao que os apaziguadores responderam: “Foi muito pequena a quantidade de terra tirada; não fará falta nenhuma”.
Vendo que não houve protesto, o Rei, logo depois, deu nova ordem aos cavouqueiros para que arrancassem outro pé de qualquer coisa, mas com terra — ele fazia muita questão de que a planta condenada saísse sempre com um bocadinho de terra… Continuando o povo a não protestar, prosseguiu o Rei por muito tempo naquela política de “extirpação das plantas daninhas do morro”, e as foi arrancando, sempre “com terra”, até que um dia…
— Que é do morro?
Já não havia morro nenhum no reino. Desaparecera o Morro da Democracia, e o rei pôde, afinal, estender o seu olhar vesgo por todo o país e governá-lo despoticamente — não pelo breve espaço de apenas quinze anos, mas pelo de trinta e tantos, segundo rezam as crônicas históricas.
Isso foi no Oriente. Mas nada impede que aqui aconteça o mesmo, porque também temos o nosso morrinho da Democracia, cheio dessas plantas más que costumam nascer em tais morros. É preciso, pois, que o povo se mantenha sempre vigilante, para que os nossos Reis vesgos não as arranquem “com terra”. Do contrário o morro se acaba — e… como é? Ditadura outra vez? Tribunalzinho de Segurança outra vez? Paizinho dos pobres outra vez?
Este comício tem essa significação. É um protesto do povo contra as primeiras carroçadas de terra que o nosso Rei, sob o pretexto de arrancar o craguatá espinhento do comunismo, tirou do nosso Morro da Democracia. Cesteiro que faz um cesto faz cem. Quem tira uma carroçada de terra tira mil. Se não reagirmos energicamente, um dia estaremos privados do nosso morro e com um terrível soba dominando toda a planície.
E se tal acontecer e esse soba instituir o relho como instrumento de convicção, será muitíssimo bem feito, porque outra coisa não merece um povo que deixa seus governantes despojarem-se pouco a pouco das suas mais belas conquistas liberais.
O preço da liberdade é uma vigilância barulhenta como a dos gansos do Capitólio.
O PCB estimou em setenta mil o número de participantes do comício, uma multidão que se estendeu por todo o Vale do Anhangabaú, o “vale do povo”.
Palavras de Rui Barbosa
O Senado aprovou o projeto de Ivo de Aquino por trinta e cinco contra dezenove votos. Segundo Maurício Grabois, líder da bancada comunista na Câmara dos Deputados, os senadores votaram, na verdade, o suicídio daquela Casa, uma medida em grande parte devida ao golpe de 29 de outubro de 1945, afastando Getúlio Vargas da Presidência da República, que manteve em posições-chave da administração pública fascistas notórios. “Nós, comunistas, estamos tranquilos; não tememos de maneira alguma aquela votação, porque sabemos que cumprimos nosso dever para com o povo brasileiro. A nação, amanhã, ou hoje mesmo, irá julgar esses senadores que não foram capazes de honrar seus mandatos”, afirmou.
Na sua avaliação, a votação do projeto, tanto no Senado como na Câmara, tinha o poder de mostrar ao povo quem respeitava sua vontade e quem passava por cima da legalidade democrática para impor tiranias. “O povo brasileiro está com os olhos voltados para esse parlamento, e no dia em que a Câmara votar – se, por acaso, assim fizer – a cassação dos mandatos, não mais merecerá – sobre isso não tenho dúvida – a consideração e o respeito do nosso povo. Nosso mandato não foi obtido ilegalmente, por meios fraudulentos; não o conseguimos enganando o povo. Nosso mandato resultou do sufrágio de seiscentos mil brasileiros que deram seus votos conscientes aos representantes eleitos sob a legenda do Partido Comunista do Brasil.”
Grabois foi à tribuna da Câmara dos Deputados no começo de novembro de 1947 para antecipar-se à chegada do projeto em plenário, conforme anunciou no início do discurso. “Hoje, senhor presidente, quando comemoramos a passagem de mais um aniversário da maior figura das letras jurídicas brasileiras – Rui Barbosa – podemos ajustar algumas de suas palavras, relativamente a governos de sua época, ao do senhor general Dutra que permite, em vésperas de eleições, que homens como o senhor Adhemar de Barros criem um clima de desordem e insegurança na principal unidade da federação brasileira.”
As posições que o governador paulista vinha adotando eram embaraçosas para os comunistas. Dois dias depois da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que cassou o registro do PCB, Adhemar de Barros recebeu do ministro da Justiça, Benedito Costa Neto, uma mensagem por rádio instruindo o governo paulista sobre como a polícia deveria agir. A ordem era fechar e interditar as sedes comunistas e arrolar “bens, papéis e documentos encontrados” e lacrar “outros quaisquer locais em que o Partido porventura passe a exercer atividades”. Uma das condições para a aliança do PCB com o governador era a defesa da “existência legal de todos os partidos”. Mantida na gaveta durante o processo de cassação do registro, depois da ordem do ministro da Justiça Adhemar de Barros jogou-a no lixo e assumiu o papel de verdugo dos comunistas.
Em 1947, São Paulo seria tabuleiro de uma jogada eleitoral decisiva para a sucessão do presidente Dutra. As eleições para vereador, prefeito e vice-governador atraíam a atenção de todas as forças políticas do país. Com os olhos voltados para os movimentos políticos no estado, o governo federal pressionava Adhemar de Barros, exigindo que ele eliminasse a força dos comunistas. Estes, por sua vez, conclamavam as forças democráticas para que cerrassem fileiras contra novos golpes na democracia.
O clima estava exaltado quando o PCB tentou organizar comícios no estado para defender seus mandatos e fazer “propaganda dos candidatos recomendados pelo senador Luiz Carlos Prestes”. O ambiente de “intranquilidade” era fomentado pela passagem do governador para o posto de simples interventor de Dutra. Seria um daqueles delegados tão comuns na época do Estado Novo, um concorrente do “louco de Maceió”, segundo Pomar, numa referência ao governador de Alagoas, Silvestre Péricles de Góis, que ameaçou atirar em Prestes e mandou cercar a Assembleia Constituinte do estado com policiais portando metralhadoras, um clima que lembrava “a Alemanha de Hitler”.
Segundo Grabois, o grupo ao qual agora Adhemar de Barros também pertencia, obcecado pelo ódio insaciável aos comunistas, empregava todos os esforços “no sentido de fazer desaparecer da política brasileira, e mesmo da própria face geográfica do Brasil, mais de quinhentos mil compatrícios que concorreram às eleições de 2 de dezembro de 1945 e 19 de janeiro de 1947”.
“Por isso, senhor presidente, na data em que se comemora o nascimento de Rui Barbosa, gênio das letras jurídicas de nossa pátria, não há melhor homenagem a esse grande brasileiro do que ler algumas palavras por ele preferidas, acusando o governo de então, também de incapaz e inepto. Assim permito-me ler o seguinte trecho de discurso proferido no Supremo Tribunal Federal, a 23 de abril de 1892:
Não há mais justiça, porque o governo a absorveu. Não há mais processo, porque o governo o tranca. Não há mais defesa, porque o governo a recusa. Não há mais códigos nem leis, porque os governo as substitui. Não há mais Congresso, porque o governo é senhor da liberdade dos deputados. O governo… o governo, o oceano do arbítrio em cuja soberania desempenham todos os poderes, se afoga todas as liberdades, se dispersam todas as leis. Anarquia vaga, incomensurável, tenebrosa como os pesadelos das noites de crime. De toda parte a desordem, por todos os lados a violência. E flutuando apenas à sua tona, expostas à ironia do inimigo, as formas violadas de uma Constituição, que os seus primeiros executores condenaram ao descrédito imerecido e à ruína precoce.
Senhor presidente, essas palavras do grande Rui Barbosa se aplicam hoje, sem dúvida, à situação presente, quando já podemos dizer que não vivemos mais sob o império da lei, não temos mais um governo que respeite à Constituição. O que temos é uma ditadura terrorista, à frente da qual se encontra um homem cujo passado não é dos mais democráticos, porque ninguém pode contestar ter sido o senhor Eurico Gaspar Dutra um dos executores do golpe de 10 de novembro de 1937, que apoiou durante longo período o Estado Novo com as suas perseguições e todos os seus atos antidemocráticos. E só desembainhou a espada quando a democracia já estava vitoriosa em nossa terra. Só soube desembainhá-la no dia 29 de outubro de 1945.”
As palavras de Rui Barbosa eram bastante oportunas, reforçou Grabois, principalmente naquele momento em que a Câmara dos Deputados teria a necessidade de se manifestar sobre o projeto de lei enviado do Senado que, segundo ele, surgiu sob a inspiração direta do Catete e, “podemos afirmar, do bolso do senhor general Eurico Gaspar Dutra”, que não dormia, não descansava enquanto ele não fosse aprovado. “Assim, não só perderão os mandatos os representantes comunistas como também será ferida a Constituição e liquidada a democracia em nosso país.”
Estado de sítio
Grabois considerava possível a confirmação de uma informação do deputado comunista José Maria Crispim dando conta de que, caso o projeto não fosse aprovado, logo após chegaria à Câmara dos Deputados o pedido de estado de sítio, sob ameaça de dissolução do Congresso Nacional. “Devemos compreender, portanto, que esse projeto de cassação de mandatos é, sem dúvida, repito, profundamente político. A partir disso, querem utilizar o projeto como pretexto para novos assaltos à democracia. O Poder Executivo – esse grupo fascista que tem à frente o senhor Eurico Gaspar Dutra – pretende assim encobrir sua inépcia administrativa, a desorganização em que vive o país, as dificuldades econômicas que atravessa nossa pátria.”
Os comunistas compreendiam o projeto, disse Grabois, como objetivo profundamente político, cortina de fumaça. “Não tenho pretensões a cultor de letras jurídicas e a envolver-me em discussões de caráter puramente constitucional. Vindo do seio do povo, escolhido pela população do Distrito Federal para representá-la nesta Casa, aqui, no trato com os constitucionalistas, tenho aprendido algumas noções referentes aos problemas jurídicos. No entanto, qualquer estudioso do assunto, por certo, observará que esse projeto de cassação de mandatos, de autoria do ‘luminoso’ senhor Ivo de Aquino, sem dúvida, é uma chicana, constituindo mesmo um ridículo lançado à face da nação e que cobre mais que a seu próprio autor, o Congresso Nacional.”
Grabois citou uma matéria do jornal A Noticia classificando o projeto “de uma vergonha e mesmo de acinte, porque procurava regulamentar aquilo que não exige regulamentação”. “Visa-se, para arrecadar as cadeiras dos parlamentares comunistas, forjar uma lei, criar uma teoria sui generis para os casos de extinção de mandatos. Como bem afirmou ao jornal Diretrizes o deputado pessedista senhor Vieira de Melo (PSD), ‘procura-se forçar uma porta aberta’.”
Em tom irônico, Grabois comentou superficialidades e contradições primárias do projeto. Segundo ele, Ivo de Aquino fez uma grande descoberta quando dizia que, passados oito anos, seria extinto o mandato do senador. “Depois, o supersábio senador – e digo supersábio porque sua excelência ultrapassou em sabedoria aqueles famosos cinco sábios que enviaram a petição em nome do Conselho Nacional do Partido Social Democrático ao Superior Tribunal Eleitoral –, como cultor das letras jurídicas, também fez notável descoberta ao declarar que o mandato se extingue por morte do representante do povo. Acreditará sua excelência que uma alma do outro mundo possa ocupar no parlamento a cadeira, vaga por falecimento de um deputado ou senador? Não terá sido preenchido pelo respectivo suplente o lugar daquele saudoso senador desaparecido durante os trabalhos de elaboração da Constituição? Pensou, àquele tempo, o senhor Ivo de Aquino ser indispensável que o representante falecido mantivesse ainda seu mandato? É inconcebível, senhor presidente, pretender-se elaborar uma lei estabelecendo que, pelo fato de um membro do parlamento morrer, fica extinto o mandato de representante do povo.”
Com esse conteúdo, afirmou Grabois, o projeto era um conjunto de chicanas, constituindo afronta à mentalidade jurídica do parlamento. Quando ele foi discutido no Senado, poucas vozes se levantaram “para defender a indecorosa e inconstitucional proposição”. “Homens cujos méritos pessoais serão desconhecidos da população brasileira anônima, cujos argumentos não convencerão a ninguém e cujas afirmações são superficiais e vazias de conteúdo. Que fazem eles? Servem a interesses dos poderosos que querem desmoralizar o parlamento, dos que desejam acabar com a democracia em nossa terra.”
Em contraposição, disse, nomes esclarecidos da pátria, figuras respeitadas de juristas com grande folha de serviços prestados à democracia, estavam contra o projeto. “Não procurarei mais argumentos para demonstrar a inconstitucionalidade de tal projeto, porque nenhum assunto foi tão debatido, com tão vasta literatura, como o da cassação dos mandatos. Quase todos os juristas já se manifestaram sobre ele. Tive oportunidade de comparar as afirmações de senadores e juristas consagrados, relativamente à questão”, asseverou. Mas, para que a Casa ficasse bem elucidada, ele citou mais “algumas opiniões abalizadas”. “Assim, senhor presidente, inúmeros representantes do povo e juristas deram sua opinião contrária à cassação de mandatos. Poderia citar o parecer do desembargador Vieira Ferreira, do advogado Sobral Pinto, enfim, de muitos juristas e políticos de nossa pátria com autoridade para afirmar que este projeto é inconstitucional e ofende a democracia.”
Capítulo amargo
A votação do projeto foi marcada para 8 de janeiro de 1948. Um dia antes, Grabois foi à tribuna da Câmara dos Deputados para dirigir a voz, conforme afirmou na primeira frase do discurso, não para os deputados, pelo menos a maioria deles, mas, sim, diretamente ao povo brasileiro, à imensa massa dos trabalhadores do Brasil. “Porque estou certo de que minhas palavras neste recinto não terão a virtude de convencer aqueles homens que já traçaram seu roteiro, sua posição em face do projeto de cassação dos mandatos. Não tenho ilusões sobre o caráter tremendamente reacionário que orienta a maioria parlamentar, nem espero que a minha palavra possa convencer a esses homens que se esqueceram da dignidade do parlamento nacional, da soberania desta Casa do Congresso Nacional, permitindo a sua automutilação e com seu voto favorecendo a liquidação do próprio regime democrático em nossa pátria.”
O discurso foi rápido. Afirmou que nunca, no cenário político do Brasil, um parlamento tomara uma atitude como aquela, que sem dúvida passaria à história como sendo de conivência com os traidores da pátria. “Não tenhamos ilusões: o historiador saberá julgar essa maioria parlamentar que não ouve os reclamos da população, não é o intérprete da vontade popular, e não faz outra coisa senão se submeter, de maneira subserviente, aos imperativos desse grupo fascista que infelicita nossa pátria, levando o país para o caos e a catástrofe.”
Para Grabois, ali estava se encerrando mais um capítulo amargo da história do Brasil. “Sim, senhor presidente, usando esta tribuna não me dirijo a essa maioria parlamentar incapaz de defender o regime democrático, porque sei que não é a capitulação desta Câmara, a que se pode aplicar o qualificativo que Silveira Martins deu a uma determinada Câmara, que há de servir para a salvação do regime democrático; nesta hora em que se debate o projeto de cassação de mandatos, minha voz se volta para o povo brasileiro, para esse povo que a 2 de dezembro de 1945 acorreu às urnas cheio de esperanças, cheio de entusiasmo, certo de que as eleições iriam trazer para nossa pátria uma nova época de progresso e de liberdade. Logo após o pleito, empossado o candidato eleito através de acordos eleitorais, porque não tinha nenhum prestígio popular, que vimos? A marcha do Brasil no sentido da ditadura, no sentido da reação, a fim de liquidar com todas as conquistas obtidas pelo nosso povo na gloriosa jornada de 1945.”
Nos dias que antecederam à votação, a bancada comunista fez uma marcação cerrada sobre o projeto. Enquanto ele era discutido na Comissão de Constituição e Justiça, os deputados do PCB revezavam-se para denunciar, todos os dias, na tribuna, o que representava aquela medida proposta. O governo tinha pressa. Seu líder, Acúrcio Torres, corria de deputado em deputado, de bancada para bancada, a fim de impedir que os comunistas continuassem a falar. A mídia seguia a procissão e acusava a bancada do PCB de “sabotar os trabalhos parlamentares”.
A precaução contra a revolta do povo brasileiro fazia sentido. Segundo Grabois, ao falar em um comício no Parque Treze de Maio, no Recife, ele viu que a “numerosa multidão verberou o imperialismo e o grupo fascista no poder”. O PCB organizara uma bateria de manifestações pelo país, muitas vezes enfrentando as restrições policiais, com a presença de seus dirigentes nacionais, para que a força do povo se erguesse contra os atentados à democracia e à Constituição. Grabois esteve também em Salvador. “Os comícios de que participei em Recife e em Salvador estão mostrando que o povo está compreendendo que a defesa da democracia e agora, particularmente, a luta contra a cassação dos mandatos está em suas próprias mãos”, disse ele.
As manifestações ganhavam apoio das massas mesmo com a repressão fazendo vítimas por todo o país. Em Salvador, relatou Grabois, havia um ambiente de intranquilidade por conta das provocações policiais que tinham empastelado o jornal local do PCB, O Momento. “Em Salvador, onde o senhor Mangabeira (governador do estado pela UDN) afirma querer realizar um governo democrático, paira um ambiente de intranquilidade em face das ameaças dos mesmos fascistas que, servindo-se das armas da nação, empastelaram O Momento e continuam impunes. Assim, durante o comício na Liberdade, corriam boatos de que esse mesmo grupo pretendia dissolver o comício. No entanto, o povo deu a resposta merecida, comparecendo ao comício e aplaudindo os oradores”, disse.
Pomar, eleito deputado federal em 1947 na aliança com Adhemar de Barros em São Paulo, denunciara que “um bando de criminosos, envergando a farda do Exército para enxovalhá-lo, invadiu e empastelou o jornal O Momento, destruindo implacavelmente todo material do referido órgão da imprensa baiana”. No Recife, informou Grabois, a polícia proibiu comícios nos bairros, o que não impediu que uma multidão comparecesse ao Parque Treze de Maio, embora houvesse muito pouca preparação. “Após o comício, a grande massa, demonstrando mais uma vez a grande fibra de luta do povo pernambucano, saiu em passeata pelo centro da cidade, exigindo a renúncia do ditador. Ao fim da passeata, policiais espancaram alguns manifestantes, demonstrando, mais uma vez, que estamos em ditadura, contra a qual ergue-se o povo.”
Na capital pernambucana, uma “malta de vagabundos e policiais”, segundo disse Grabois na tribuna da Câmara dos Deputados, ameaçava o jornal local do PCB, a Folha do Povo. Ele presenciou “um assassino conhecido, velho agente de polícia” que contava em sua folha de serviço com “numerosos assassinatos, inclusive o do jornalista José Lourenço Bezerra, irmão do senhor Gregório Bezerra, e de operários presos em 1935”, colocar-se “à frente de cinquenta desocupados, ameaçando empastelar a Folha do Povo”. “O povo mobilizou-se em frente à redação do referido jornal, esperando que a malta de provocadores fosse atacar esse órgão de imprensa, para lhe dar a resposta merecida”, discursou.
Grabois asseverou que para os comunistas o parlamento era um lugar de luta contra o capital estrangeiro reacionário e os contratos lesivos ao progresso do país. “É, igualmente, a tribuna para defesa da indústria nacional ameaçada pela concorrência estrangeira. E finalmente o meio constitucional indicado para o início da reforma agrária, capaz de enfrentar o problema da concentração da propriedade rural nas mãos de alguns poucos latifundiários e assegurar aos lavradores sem terra do interior a área necessária ao seu sustento e a sua família. No parlamento os comunistas defenderam melhores salários para os trabalhadores, medidas eficazes de combate à carestia, uma política objetiva de fomento à produção de melhoramento dos transportes, de facilidades à distribuição, de combate aos especuladores, de defesa e amparo aos consumidores e dos produtores.”
Segundo ele, não houve um único problema de interesse do Brasil discutido no parlamento que não tinha recebido a melhor atenção da parte dos comunistas. “Tendo como objetivo exclusivo a defesa do país e do povo, souberam os comunistas desmascarar as manobras lesivas à economia nacional, evitando pela vigilância e firmeza muitos golpes solertes do imperialismo. Ainda nestas últimas semanas, quando a luta pela defesa dos mandatos e da soberania do Poder Legislativo lhes consumia o melhor de suas energias não cessaram os comunistas na sua batalha em prol da economia nacional. Consultem-se os anais desses dias memoráveis e lá se lerá a palavra dos comunistas mostrando como o projeto de cassação dos mandatos nada mais é que uma cortina de fumaça para encobrir a inércia administrativa do governo Dutra, cuja incapacidade se traduz nesta simples verdade: há hoje mais fome, mais doença e mais miséria no Brasil do que antes de sua chegada ao poder.”
Pomar disse que, se dependesse de Dutra o Brasil já teria se transformado em um campo de concentração e as forcas estariam nas praças erguendo os corpos de patriotas, especialmente o de Prestes. “Mas é a posição firme, é a posição enérgica, é a posição corajosa dos comunistas que tem impedido, até o presente momento, que o país enverede pelo caminho que quer a ditadura, o grupo fascista e o senhor Dutra”, discursou. Lembrou que ao espírito unitário dos comunistas, à política de ausência de ressentimentos e de mão estendida, a ditadura respondia com perseguições, brutalidades, violências, espaldeiramentos e assassinatos em praça pública.
A declaração de voto de José Maria Crispim, deputado comunista por São Paulo, foi implacável. Em um copioso discurso, ele esmiuçou o projeto e contestou, detalhe por detalhe, as argumentações de Ivo de Aquino. Nos dias seguintes, a bancada comunista fez uma marcação cerrada sobre o projeto. Os deputados comunistas revezavam-se para denunciar, todos os dias, na tribuna da Comissão de Constituição e Justiça, o que representava aquela medida proposta. O governo tinha pressa. Seu líder, Acúrcio Torres, corria de deputado em deputado, de bancada para bancada, a fim de impedir que os comunistas continuassem a falar. A mídia seguia a procissão e acusava a bancada do PCB de “sabotar os trabalhos parlamentares”.
Coveiros da democracia
Os debates começaram na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Os deputados comunistas se revezaram na tribuna para fazer um diagnóstico profundo do país e do papel das forças progressistas. Dados, fatos, números, citações e análises formaram o conjunto da defesa da bancada. Em alguns momentos, os ânimos se exaltaram. O jornal do Partido A Classe Operária reproduziu um áspero entrevero iniciado pelo deputado comunista Pedro Pomar com o líder do governo na Câmara dos Deputados, Acúrcio Torres, que discursava de maneira efusiva para tentar justificar o projeto:
— Vossa Excelência está lendo um discurso de encomenda.
Acúrcio Torres esbraveja.
Diógenes Arruda interrompe suas cavilações de rábula do imperialismo, gritando-lhe:
— Vossa Excelência se diz patriota, mas está falando em nome do “partido americano”.
Marighella acrescenta:
— Se dinheiro tivesse cheiro, o projeto Ivo de Aquino teria cheiro de dólares.
E Gregório Bezerra:
— Vossa Excelência diz que não conhece os americanos, mas conhece o dinheiro americano.
Acúrcio Torres sua, desconversa, torna-se patético. O líder do PSD.
Amazonas interrompe:
— A liberdade de Vossa Excelência é a liberdade de fazer negociata.
O “líder” queremista continua aos trancos e solavancos.
Diógenes Arruda o desmascara:
— As palavras de Vossa Excelência e as palmas da maioria revelam o medo que Vossas Excelências têm da bancada comunista e dos comunistas que sempre defenderam e defenderão os interesses do proletariado e do povo. Vossas Excelências têm medo.
A “maioria” cumpre o seu triste papel: vota, passando por cima do próprio regimento.
No encerramento da discussão, a bancada comunista grita:
— Maioria subserviente a Dutra e ao imperialismo americano! Coveiros da democracia!
O Jornal de Notícias disse que na confusão que se estabeleceu houve uma nuvem de palavras ásperas trocadas entre Gregório Bezerra e Pereira da Silva, do PSD, que sacou um revólver contra o deputado comunista. Benedito Valadares, também do PSD, igualmente sacou sua arma em defesa do companheiro de partido. Outros deputados e até jornalistas se envolveram no quiproquó. Indagado se o uso de arma era permitido no plenário, o presidente da Câmara, Samuel Duarte (PTB), respondeu que não podia revistar os parlamentares.
No dia da votação do projeto, Grabois fez seu último discurso. Lembrou que no dia anterior, no encerramento da sessão, tinha conseguido usar da palavra durante cinco minutos. “Naquele exíguo espaço de tempo, tive ensejo de recordar palavras de uma das figuras políticas de nossa história, Gaspar Silveira Martins, que, ao se dirigir à Câmara de sua época, considerava-a uma Assembleia de servis. E, neste instante, senhor presidente, não há outras palavras senão aquelas pronunciadas por Silveira Martins, para dirigir-me a uma Assembleia que se dobra aos imperativos e à vontade do grupo que se encontra encastelado no Catete, levando o país para a catástrofe e para o caos.”
Era com esse espírito que ocupava a tribuna, asseverou Grabois, compreendendo que já não falava para um parlamento soberano capaz de defender a democracia, capaz de defender sua dignidade. “Por isso, usando da palavra, dirijo-me, não a essa maioria que liquida com a democracia, mas, particularmente, ao povo brasileiro, porque, nesta hora, em que o regime democrático está em completa derrocada, somente o povo – e somente ele organizado – é capaz de assegurar a democracia em nossa pátria.”
Grabois homenageou os homens do povo, anônimos, que deram seus votos aos comunistas para representá-los no parlamento, para que defendessem o regime democrático e que nas ruas clamavam contra o “crime monstruoso” da cassação dos mandatos, “o qual irá golpear, temporariamente, a democracia em nossa pátria, mas só temporariamente, porque a democracia é invencível”. “Quero render minhas homenagens àqueles homens que estão vertendo sangue para que a democracia não pereça, olhos voltados para o operário Anísio Dario, morto pela polícia de Aracajú, o qual perdeu a vida clamando contra o crime que se pretende perpetrar com a cassação dos mandatos de representantes legitimamente eleitos.”
Grabois repetiu o argumento de que os comunistas eram vítimas de uma trama contra a democracia. “Não assomamos à tribuna para nos defender, nem fazer a defesa de nossa posição dentro do Parlamento, porque, senhor presidente, se aqui estamos é mais para acusar, pois somos o alvo desse grupo fascista, dessa maioria subserviente. Se sairmos desta Casa, será com nossa consciência tranquila, com a cabeça erguida, porque temos a certeza de haver cumprido o nosso dever, fiéis ao nosso eleitorado e ao povo brasileiro, defendendo, palmo a palmo, suas reivindicações e a própria Constituição.”
O golpe de violência anticonstitucional, por parte dos maiores inimigos da democracia, disse, seria temporário. “Estou certo, porém, de que, amanhã, em outra eleição, quando a democracia ressurgir em nossa pátria — não essa democracia de fachada, que serve a meia dúzia de politiqueiros e generais fascistas, que estão entregando o Brasil ao imperialismo norte-americano —, quando ressurgir a verdadeira democracia, a democracia do povo, quando for respeitada sua vontade, podem estar certos os senhores representantes que neste instante cassam nossos mandatos de que voltaremos, não apenas com uma bancada de dezesseis deputados, mas com número bem maior, capaz de derrotar todos os reacionários que infelicitam o povo brasileiro e impedem o progresso nacional.”
Grabois afirmou que não alimentava ilusões de reverter a decisão da maioria. “Senhor presidente, inoperante, sem nenhum resultado, seria desenvolver nesta altura dos debates, argumentos jurídicos para atacar o projeto de cassação de mandatos. As maiores figuras da cultura jurídica nacional já se manifestaram, demonstrando a inconstitucionalidade do projeto – homens como o Ministro Eduardo Spinola, como João Mangabeira, como o Desembargador Vieira Ferreira, como o Professor Homero Pires, como o Desembargador Bianco Filho, como o professor Luiz Carpenter, como o doutor Sobral Pinto, como o professor Jorge Americano e inúmeros constitucionalistas de reconhecido valor. Não há, na consciência de qualquer homem honesto, a convicção de que este projeto seja constitucional e venha beneficiar a democracia. Aqui mesmo, neste parlamento, poucos são os representantes do povo, mesmo aqueles que opinam pela cassação de mandatos, que estejam convencidos da constitucionalidade do projeto.”
Os votos seriam por motivos políticos, disse, por interesses próprios e pessoais. “É uma verdadeira farsa querer fazer debate jurídico em torno dessa monstruosa proposição, porque tem a sua origem, não na vingança de um homem, como o senhor Barreto Pinto (obscuro deputado do PTB que iniciou a patranha que resultou na cassação do registro do Partido), mas nos círculos reacionários encastelados no Catete e diretamente inspirados nos trustes e monopólios norte-americanos. Essa a origem do projeto, deste golpe contra a democracia em nosso país. Há outros homens que estão defendendo seus interesses e procuram manter suas posições sob a máscara da constitucionalidade. Sabemos mesmo que não há nenhuma convicção nesse argumento.”
Grabois fez um alerta à nação contra o “grupo fascista que aí está no poder e aproveita-se da ofensiva imperialista, no mundo inteiro, para liquidar com as liberdades e instaurar a mais feroz ditadura em nosso país”. Está à frente de tal grupo um fascista (o presidente Dutra), conhecido homem que foi condecorado por Hitler e recebeu a espada dos samurais das mãos dos militaristas do Japão, homem que só no último instante, sob a pressão das massas, foi capaz de concordar com o envio das forças expedicionárias para combater o nazismo no solo da Itália.” Dutra, afirmou, transformado por obra do acaso em presidente da República em virtude da instabilidade política em que vivia o país, era um homem de tendências fascistas, que não fazia outra coisa a não ser aplicar diretrizes políticas que favoreciam ao imperialismo.
A atitude dócil do Congresso Nacional diante do autoritarismo do presidente da República, disse Grabois, seria desastrosa para o próprio parlamento. “Neste discurso, desejo ainda lembrar que o parlamento está assumindo grandes responsabilidades. Em 1937, ele não foi capaz de defender sua dignidade, curvando-se às vontades dos senhores que dominavam no Catete. Foi ele que votou as leis de segurança, o estado de sítio e o de guerra, permitindo a prisão e processo de membros seus. Esse parlamento, portanto, sucumbiu, apodrecido, sem o protesto popular, porque quando a polícia cercou este mesmo Palácio do Congresso, nenhuma voz do povo se levantou para proteger um parlamento incapaz de defender suas próprias prerrogativas. Os fatos se repetem de maneira muito mais trágica e mais séria, porque esta Casa se mostra muito abaixo daquela de 37. Aquele cedeu ao futuro ditador, votando leis de arrocho e exceção; o atual corta na própria carne, expulsando de seu seio homens legitimamente eleitos pelo voto popular, sem contestação alguma.”
Uma vez consumado o crime, o parlamento não mereceria o respeito da opinião pública, disse. Seria um parlamento desfibrado, que o povo não levaria a sério. E, quando os inimigos da democracia procurassem implantar uma ditadura sem aparência legal, bastaria simplesmente um vigilante noturno para fechá-lo, pois nenhuma voz seria capaz de se interessar por um parlamento de capitulação e de traição nacional, analisou. “Atrás de todo esse projeto de cassação, entretanto, esconde-se toda uma política contrária aos interesses do povo. Quando encerramos a última sessão legislativa tive oportunidade de dizer que este parlamento não votou nenhum projeto de caráter social. Durante quase um ano de funcionamento, só se votaram as mensagens enviadas pelo Executivo, solicitando abertura de créditos para o governo, ou isenção de direitos para empresas imperialistas. É um parlamento que serve aos poderosos; não se viu aqui aprovado nenhum projeto que viesse beneficiar o povo brasileiro. Esta a realidade palpável.”
Ao votar a cassação dos mandatos, afirmou Grabois, o Congresso nacional assumia uma conduta reacionária. “Incomoda aos representantes da classe dominante ouvir a voz da classe operária e do povo brasileiro que tem assento neste parlamento. Dói aos reacionários, aos negocistas, aos exploradores, ouvir a voz rude, às vezes mal formulada, dos operários que têm assento nesta Casa, do deputado negro Claudino Silva, do ferroviário Agostinho de Oliveira, porque é a voz do povo que aqui está vigilante, desmascarando as manobras do senhor Dutra e do grupo fascista contra o país. Aqui também está a origem do projeto de cassação de mandatos: se votam por subserviência, também o fazem por interesses pessoais para afastar a voz do povo, do proletariado, do recinto desta Assembleia. Mas podem estar certos de que este parlamento, sem os representantes da classe operária, sem os representantes que vêm do povo, não merecerá mais o respeito e a devida consideração, não será mais o terceiro poder, mas um apêndice podre da ditadura do senhor Eurico Gaspar Dutra.”
Jogo de palavras
Grabois denunciou o jogo de cena que a maioria dos deputados fazia ao falar de democracia demagogicamente. “Senhor presidente, a democracia não é um jogo de palavras. A democracia são os fatos, a prática diária e concreta do respeito à nossa Constituição e da defesa dos interesses do povo, e não a subserviência, o calar ante as manobras e as violências dos poderosos. Estou certo de que os acordos e arranjos, que tiveram como objetivo principal facilitar a marcha deste indecoroso projeto, não darão resultado, porque as contradições aumentarão. As posições são poucas e os cargos não chegam para todos. As divergências prosseguirão, porque, para contemplar a UDN (União Democrática Nacional), se descontentará o PSD.”
Ele comentou também a discriminação social manifestada por alguns deputados. “O nobre deputado senhor Munhoz da Rocha (PR), em discurso aqui proferido afirmava que todos nós falamos uma só linguagem. É verdade. Falamos a linguagem do povo, do interesse nacional. Mas todos nós, da bancada comunista, saímos dos mais diferentes setores da sociedade. Lá não estão os negocistas, os industriais reacionários e advogados de empresas imperialistas. Lá estão homens como Gregório Bezerra com sua vida dedicada ao povo pernambucano; Abílio Fernandes, operário metalúrgico; Jorge Amado, uma das glórias da literatura nacional; Alcedo Coutinho, médico, que honra a ciência pátria; João Amazonas, Pedro Pomar, Diógenes Arruda e Carlos Marighella, provados lutadores da causa democrática; Henrique Oest e Gervásio de Azevedo, heróis da FEB (Força Expedicionária Brasileira); Claudino Silva, Francisco Gomes, Agostinho Oliveira e José Maria Crispim, a voz patriótica da classe operária.”
Grabois encerrou dizendo que a vitória seria do povo e não de Dutra, com seu parlamento de ficção, simples chancelaria do Catete, visando apenas aos atos do governo. “Não será o senhor Dutra nem esta maioria – repito – que acabarão com o movimento comunista no Brasil, porque nós somos a vanguarda das forças do progresso e da democracia. Somos a juventude do mundo, os homens que lutam pelo progresso do Brasil. Somos soldados do grande Prestes. Sabemos que a luta para muitos, será difícil, muitos serão sacrificados; mas outros ocuparão nossos lugares, erguerão a bandeira de defesa da democracia e do nosso povo e o triunfo será certo e decisivo. O governo do senhor Dutra cairá sob a pressão das massas e será execrado por todos os brasileiros e por toda a humanidade.”
Segundo Pomar, o anticomunismo do governo era a bandeira com a qual seus integrantes justificavam os maiores crimes contra a Constituição e a soberania da pátria, como fizeram Petáin e Weygand quando entregaram a França a Hitler. Com a mesma cegueira política com que participou do golpe de 10 de novembro de 1937, com que quis impedir a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e resistiu à democratização do país, Dutra queria arrastar a nação para as aventuras guerreiras do imperialismo americano, antes arruinando a indústria nacional, cedendo o petróleo e o ferro, aumentando a fome e o desemprego das massas, sufocando as liberdades democráticas e subordinando as Forças Armadas ao plano de “cooperação” militar do governo dos Estados Unidos, denunciou.
Ataques a Pomar
O anticomunismo raivoso havia sido abraçado também pelos jornais conservadores, principalmente O Globo e A Noite. O jornal do senhor Roberto Marinho esmerava-se nas mais torpes invencionices para atribuí-las aos comunistas e reforçar a tese que os “cinco sabichões” do PSD estavam preparando. A Noite chegou ao ponto de protestar com virulência quando Pomar assumiu a presidência dos trabalhos em uma sessão da Câmara dos Deputados na ausência dos demais membros da mesa. Segundo o jornal, “quando o fato ocorreu houve no ambiente uma sensação de mal-estar”. “O que admira, não tendo havido nenhum protesto imediato, é que ninguém tivesse lembrado ao menos de requerer a suspensão dos trabalhos para que não continuasse perante os olhos da assistência estupefata aquele espetáculo de uma Câmara democrática presidida pelo representante de um partido fora da lei”, vituperou.
O jornal A Noite disse ainda que “houve um grande erro político por parte das correntes democráticas da Câmara em permitir a participação dos bolchevistas na mesa daquela casa legislativa”. “O erro agravou-se, porém, quando em seguida à decisão do Superior Tribunal Eleitoral não se procedeu ao imediato expurgo dos agentes vermelhos, não só da mesa como das comissões internas da Câmara”, esbravejou. “Aquele que outro dia se exibiu na cadeira da presidência da Câmara não é apenas um líder comunista. É um agitador conhecido e o diretor responsável de um jornal que segue, entre nós, as diretrizes do Pravda de Moscou, jornal que prega diariamente a subversão do regime, o desrespeito aos poderes públicos, o ódio de classe e que naturalmente é solidário com o ponto de vista de seu chefe, o que pegaria em armas contra o Brasil, a favor da Rússia”, praguejou o jornal.
Mandado de segurança
O projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados por cento e oitenta e um a setenta e quatro votos. Depois da votação, a bancada comunista subiu nas poltronas e, de pé, com o braço esquerdo levantado e a mão fechada, brandiu: Viva o Partido Comunista do Brasil! Viva Prestes! Viva o proletariado! Nós voltaremos! Uma comissão de deputados, indicada pela Mesa, se encaminhou ao Palácio do Catete para que o presidente da República sancionasse a lei aprovada. Em uma cerimônia simples, Dutra assinou a sentença contra a bancada comunista precisamente às vinte e duas horas do dia 8 de janeiro de 1948. Estavam presentes, entre outros, os ministros da Justiça, do Trabalho e da Agricultura; os presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado; o chefe do Gabinete Militar Alcio Souto e o chefe da Casa Civil, José Pereira Lira.
Os comunistas estavam fora da Casa especialmente construída sob a invocação de Tiradentes para servir de sede à Câmara dos Deputados e do Palácio Monroe, a sede do Senado. Na Câmara dos Deputados, das catorze vagas abertas sete ficaram com o PSD, cinco com a UDN, uma com o PR e uma com o PTB. A vaga de Prestes no Senado ficou para a UDN. Quarenta e oito horas depois da sanção presidencial, os tribunais regionais da Justiça Eleitoral (TREs) oficiariam as assembleias legislativas e as câmaras municipais, enviando a relação dos eleitos pelo Partido Comunista do Brasil. Ao receber a lista, os presidentes daquelas casas deveriam declarar vagas as cadeiras dos citados.
Um mandado de segurança – assinado por Maurício Grabois, Abílio Fernandes, Agostinho Dias de Oliveira, Alcedo Coutinho, Carlos Marighella, Gervásio Gomes de Azevedo, Gregório Lourenço Bezerra e José Maria Crispim – foi impetrado pelo advogado Sinval Palmeira no Supremo Tribunal Federal apontando a inconstitucionalidade da lei, que nunca seria julgado.
Resistência armada
Tão logo a cassação dos mandatos se consumou, o regime de Dutra voltou a mostrar as garras. O temor maior era o de Prestes ser preso quando pisasse fora do edifício da Praça Paris, onde funcionava o Senado, sem o mandato. Amazonas organizou um comando armado que, com três veículos, foi esperá-lo em uma porta lateral. Pomar e Arruda, que preservaram os mandatos por terem sido eleitos pelo PSP de Adhemar de Barros, foram buscar o senador comunista no interior do prédio. Já era noite. Prestes, escoltado pelos dois deputados, entrou imediatamente em um dos veículos. Amazonas seguiu atrás, em outro. Um terceiro abriu caminho, deixando o que conduzia Prestes no meio da caravana. Em velocidade máxima permitida, levaram o secretário-geral para um esconderijo.
No dia seguinte à cassação dos mandatos — os deputados do PCB só deixariam formalmente suas cadeiras depois do acatamento pela mesa diretora da Câmara dos Deputados da comunicação do Superior Tribunal Eleitoral, em 10 de janeiro de 1946 —, José Maria Crispim, falando como “eventual líder” da bancada comunista, denunciou que na madrugada daquele dia agentes da polícia política invadiram as oficinas da Tribuna Popular, jornal do PCB, para cumprir uma determinação do ministro da Justiça, alegando que um jornal ilegal — a Imprensa Popular — estava sendo impresso.
“Sabe vossa excelência, senhor presidente, e a Casa, que a Tribuna Popular está suspensa por determinação arbitrária do senhor ministro da Justiça, determinação ilegal e, por isso mesmo, violenta, que mostra bem o governo que o Brasil suporta nesta hora grave da vida nacional. Sem poder funcionar a Tribuna Popular, em suas oficinas vem sendo impresso um novo órgão – a Imprensa Popular –, que há vários dias circula na capital da República e nos estados”, afirmou.
Segundo ele, naquela madrugada “a polícia de bandidos”, armada até os dentes de metralhadoras e bombas de gás, com armas de guerra, realizou uma verdadeira batalha, assaltando as oficinas do jornal, “onde se encontravam máquinas para a sua impressão e meia dúzia de trabalhadores”. O deputado comunista Henrique Cordeiro Oest comentou que entre os trabalhadores das oficinas estava o ex-tenente da FEB Salomão Malina, que fora ferido em combate na Europa, e era o vice-presidente e presidente em exercício do Conselho da Associação dos Ex-Combatentes do Brasil. “É o protesto que faço diante da prisão deste camarada a quem a democracia e o Brasil muito devem”, registrou.
Crispim voltou a falar no dia seguinte, em 9 de janeiro de 1948, para dar mais detalhes da ocorrência. Ao pedir a palavra para fazer “uma comunicação relevante”, foi informado pelo presidente que a Câmara dos Deputados estava “na ordem do dia” e que ele, de acordo com o Regimento, só poderia usar a questão de ordem — um expediente limitado a cinco minutos. Crispim respondeu que o Regimento da Casa assegurava aos líderes de bancada “a faculdade de fazerem comunicações relevantes ao plenário em qualquer fase” dos trabalhos. Mesmo com a interferência de outros deputados, em meio a uma áspera troca de palavras, o presidente manteve a posição inicial.
O deputado comunista informou que houve uma chacina nas oficinas da Tribuna Popular. “São gráficos que nessa hora se encontram entre a vida e a morte, pois foram intoxicados, ao máximo, pelo uso de bombas de gás lançadas pela polícia”, denunciou. Estavam todos nos porões da Polícia Central. Gregório Bezerra aparteou: “Quando vossa excelência falar nos porões da Polícia Central, use a expressão ‘casa de torturas’, pois é o que de fato representa neste governo do ditador Dutra.” Salomão Malina estava, segundo Crispim, além de intoxicado incomunicável. Todos corriam o risco de morrer; quatro deles feridos à bala, internados em estado grave. Ele informou também sobre várias prisões ocorridas pela cidade e relatou casos de detenções e espancamentos das pessoas que assistiram à sessão que cassou os mandatos.
Depois de quatro horas presos, os funcionários da Tribuna Popular foram surpreendidos por um flagrante de apreensão de quatro armas consideradas de guerra. O fato repercutiu na Câmara dos Deputados, onde uma moção repudiando a repressão policial foi assinada por Afonso Arinos, Hermes Lima, Jaci Figueiredo, Monteiro de Castro, Café Filho, Gurgel do Amaral, Nelson Carneiro e outros parlamentares. Pomar, então diretor do jornal, comandou a resistência. Ele telefonou para o presidente da Câmara dos Deputados, Samuel Duarte, comunicando o ocorrido, dizendo que sua vida estava em risco. O presidente se dirigiu ao local dos fatos e comunicou-se com o chefe de polícia, Lima Câmara, pedindo a ele que garantisse a imunidade parlamentar a Pomar.
Prisão de Gregório Bezerra
A polícia política também andou espalhando que Gregório Bezerra seria preso tão logo pusesse os pés fora da Câmara dos Deputados. As ameaças não foram cumpridas porque ele saiu escoltado por Pomar, Arruda e mais alguns deputados. Mas as aperreações – como ele dizia – logo começariam. Passou a ser seguido pela polícia ostensivamente e não fora preso porque Pomar era uma espécie de guardião dos seus passos. No dia 17 de janeiro de 1948, tomaram café na residência de Luiz Carlos Prestes, onde morava o ex-deputado pernambucano, e foram para o escritório da “fração parlamentar”. Gregório Bezerra ficou no local e Pomar foi para a Câmara dos Deputados.
Ao meio dia, Pomar passou no escritório e ambos saíram para o almoço. O combinado era de que o carro oficial da Câmara dos Deputados estaria esperando-os em frente ao antigo prédio do Senado, na Cinelândia. Por algum motivo, houve um atraso e a polícia política não perdeu a oportunidade. Quando se deram conta, estavam cercados por um bando de policiais, em pela Avenida Rio Branco, uma das principais artérias do centro da cidade do Rio de Janeiro. Pomar protestou, Gregório Bezerra reagiu, mas os “tiras”, em maior número, acabaram vencendo.
Nesse momento, chegou o carro da Câmara dos Deputados e Gregório Bezerra se atirou para o seu interior. Um policial ainda tentou agarrá-lo pela janela, mas teve os dedos prensados na portinhola do veículo. Diante da brutalidade crescente, Pomar comprometeu-se a levar Gregório Bezerra à Polícia Central. Ao chegar, o ex-parlamentar comunista foi brutalmente arrancado do carro e preso em um minúsculo cofre de aço. Depois de protestar a plenos pulmões, foi levado para uma cela. Ficou incomunicável por três meses. Transferido para o Recife, foi julgado pelo Conselho da Justiça Militar e cumpriu dois anos de detenção.
A prisão fora ordenada por ninguém menos que o ministro da Guerra, general Canrobert Pereira da Costa, que agia como cão de guarda de Dutra. Gregório Bezerra era acusado de haver incendiado o quartel do 15º Regimento de Infantaria em João Pessoa, no estado da Paraíba, a dois mil quilômetros da cidade em que se encontrava e dela não saíra. Segundo ele, a polícia política do general Lima Câmara, desonestamente, negou as informações que provavam sua inocência. Desde que saíra da Câmara dos Deputados, estivera na residência de Prestes, “a casa mais vigiada do Brasil”, ambos protegidos pelas imunidades parlamentares de Pomar e Arruda. Com o incêndio e o processo farsesco que seria montado, a intenção era incompatibilizar o Exército com o Partido Comunista do Brasil, disse Gregório Bezerra. Os autores do incêndio, portanto, deveriam ser procurados entre os “fascistas do governo”, denunciou.
O caso do “reichstag mirim” — uma alusão ao famoso incêndio do parlamento alemão provocado pelos nazistas, em 1933, e atribuído aos comunistas — fez Pomar ocupar a tribuna da Câmara dos Deputados sistematicamente para exigir notícias do “bravo filho de Pernambuco”. “Afinal de contas, o que ocorre com Gregório Bezerra? Por que lhe cassam o direito de defesa?”, indagou. Segundo Pomar, o grupo “militar-fascista” criou uma novela para espalhar calúnias contra os comunistas. “Há três dias, enviamos um advogado à Paraíba. Até agora, o causídico (o doutor Sinval Palmeira) não teve oportunidade de verificar se o senhor Gregório Bezerra lá se achava porque o inquérito se processa sob sigilo”, denunciou.
Ao fazer o histórico dos acontecimentos, Pomar disse que todos os partidos, com exceção de poucos democratas, se atiraram de maneira indigna sobre aquilo que não lhe pertencia — as cadeiras tomadas da bancada comunista. Desde o PTB, dito de oposição e mais interessado do que qualquer outro nas vagas pecebistas, até a UDN, o partido da “eterna vigilância” que mal procurava salvar as aparências para fingir amor à Constituição. Os udenistas, segundo Pomar, marcharam vergonhosamente de sacola na mão atrás dos “senhores da ditadura”, agiram como juristas do “acordo interpartidário” que repartiu as cadeiras que pertenciam aos comunistas.












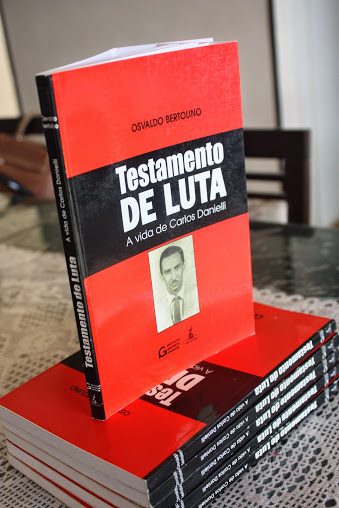 Outros dirigentes comunistas – principalmente João Amazonas – também rejeitaram com ênfase a tese superficial daquela primeira vertente revisionista. Pode-se afirmar com segurança que havia naquele primeiro embate uma manipulação dos fatos com uma finalidade mal escondida – a liquidação do Partido Comunista do Brasil.
Outros dirigentes comunistas – principalmente João Amazonas – também rejeitaram com ênfase a tese superficial daquela primeira vertente revisionista. Pode-se afirmar com segurança que havia naquele primeiro embate uma manipulação dos fatos com uma finalidade mal escondida – a liquidação do Partido Comunista do Brasil. Já no V Congresso, doze dos vinte e cinco membros do Comitê Central – além de vários suplentes – não foram reeleitos. Entre eles estavam Maurício Grabois, João Amazonas e Diógenes Arruda Câmara.
Já no V Congresso, doze dos vinte e cinco membros do Comitê Central – além de vários suplentes – não foram reeleitos. Entre eles estavam Maurício Grabois, João Amazonas e Diógenes Arruda Câmara.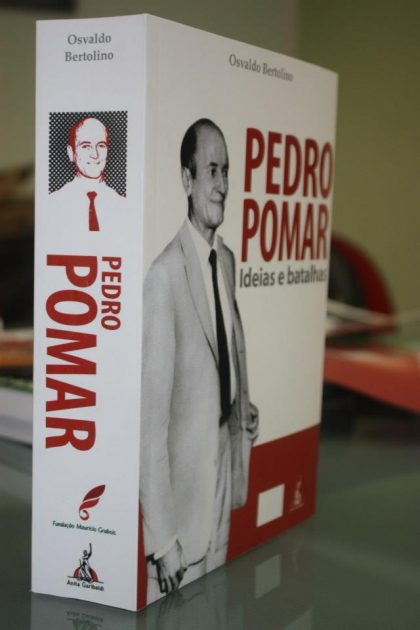 Outra missão seria a discussão da necessidade de reorganizar “o nosso velho e glorioso Partido e de indicar o caminho da luta capaz de conduzir o proletariado e povo à sua emancipação nacional e social”.
Outra missão seria a discussão da necessidade de reorganizar “o nosso velho e glorioso Partido e de indicar o caminho da luta capaz de conduzir o proletariado e povo à sua emancipação nacional e social”.