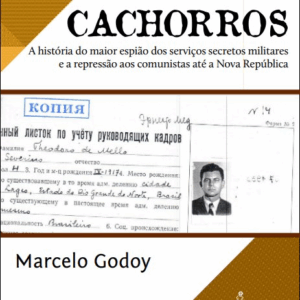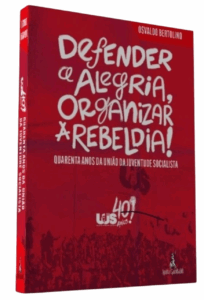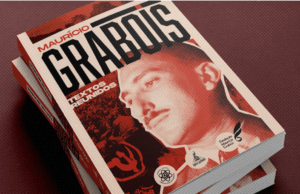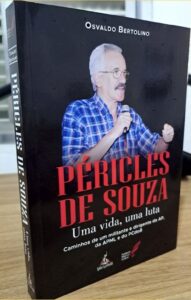Por Osvaldo Bertolino
Prólogo do livro Rio Vermelho
Sessenta e quatro anos depois que o proletariado tentou tomar o céu de assalto em Paris, uma cena parecida se repetiu em Natal, Rio Grande do Norte. A Comuna deflagrada em 1871 foi uma ousada ação, chamada por Karl Marx de “feito glorioso”, assim como o dos insurretos potiguares de 1935. O levante parisiense representou uma tentativa de inverter a ordem opressora do pós-Revolução Francesa e o do Brasil o enfrentamento com o pós-Revolução de 1930 e a inserção do país no esquadro da ascensão do nazifascismo.
Leia também:
O PCdoB, o Levante de Natal e a Guerrilha de Mossoró
Sob a influência do Partido Comunista do Brasil, então com a sigla PCB, e da Aliança Nacional Libertadora (ANL), o Levante foi desencadeado na noite de 23 de novembro de 1935, no quartel do 21º Batalhão de Caçadores em Natal. Em nome “do capitão Luiz Carlos Prestes”, conforme ordem do então cabo Giocondo Dias – que mais tarde seria um dirigente comunista de destaque –, o oficial do dia foi preso. Militares e civis rebeldes — inclusive mulheres — controlaram o quartel e travaram durante toda a noite um duro combate com as forças governistas. No final da tarde do dia seguinte, os últimos pontos-chave da cidade foram ocupados. Estava instaurado o poder revolucionário.
Às nove horas da manhã de 24 de novembro, foi a vez de o 29º Batalhão de Caçadores em Socorro se levantar, no município de Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. Uma coluna de rebelados tomou o rumo do interior e outra foi para a capital.
Na madrugada de 27 de novembro, levantou-se o 3º Regimento de Infantaria da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Outro grupo de militares tomou a Escola de Aviação Militar. Prestes deu ordens para que os rebelados em seguida marchassem em direção ao palácio presidencial.
A revolta de Natal prosseguiu até 27 de novembro e sucumbiu diante da contraofensiva fulminante de Vargas. No Rio de Janeiro, quatro horas depois de dominada pela rebelião, a Escola de Aviação Militar foi retomada pelas tropas do governo. No mesmo dia, a resistência da Praia Vermelha foi rompida com a ajuda de três aviões e dois navios. Em Pernambuco, a rebelião foi vencida dia 25.
O PCB sofrera perseguições, iniciadas três meses após a sua fundação – em 25 de março de 1922 –, mas desenvolveu importantes iniciativas para se integrar à dinâmica do país e chegou ao final da década de 1920 como força política nacional considerável. Na vigência do estado de sítio, decretado pelo presidente da República Epitácio Pessoa em resposta ao movimento tenentista, em julho do mesmo ano de sua fundação o Partido foi posto na ilegalidade, que se estendeu até 1927.
Em 1925 surgiu o jornal A Classe Operária, que desempenhou papel crucial na difusão das orientações do PCB, por indicação da Internacional Comunista — que sugeriu inclusive o nome —, projetado numa conferência de delegados de células e de núcleos do Rio de Janeiro e Niterói, realizada em conjunto com a Comissão Central Executiva em 22 de fevereiro de 1925. O primeiro número saiu em 1º de maio do mesmo ano, com tiragem de cinco mil exemplares, logo expandida.
Seu lançamento resultou de um plano meticulosamente elaborado, com a finalidade de criar uma publicação de massas — um “jornal de trabalhadores feito por trabalhadores” —, em pleno estado de sítio, decretado desde antes da posse de Arthur Bernardes na Presidência da República, em novembro de 1922, para reprimir os levantes tenentistas. Em abril, a direção do PCB lançou milhares de manifestos e panfletos, distribuídos na Rua Larga (hoje Avenida Marechal Floriano Peixoto) para os trabalhadores que passavam para tomar os trens da Central do Brasil, no Rio de Janeiro.
Octávio Brandão, um dos fundadores do Partido Comunista do Brasil, disse que A Classe Operária “tinha leitores e propagandistas desde Manaus até Boa Vista do Erechim, no Rio Grande do Sul, e Campo Grande, em Mato Grosso”. Havia comitês de propaganda do jornal e uma rede de “pacoteiros” nas fábricas e nos bairros.
O PCB priorizava sua distribuição para conter a dispersão dos comunistas. O jornal funcionava como elo que possibilitava manter os comunistas em contato com a direção. Marinheiros dos navios mercantes conduziam a carga em caixotes com senhas. Rui Facó, jornalista e escritor comunista cearense, descreve o processo como uma missão de alto risco. Seus responsáveis organizavam verdadeiros quebra-cabeças, sempre fugindo da repressão.
Doze números depois, o jornal foi fechado pelo governo, retornando em 1928. Mas logo sua redação seria invadida e destruída pela polícia. Nos anos seguintes, passou por várias oficinas, muitas redações e mãos de operários e intelectuais comunistas. A forte repressão chegou ao ponto de custar a vida de Manoel Ferreira da Silva, que morreu na Bahia defendendo A Classe Operária, quando passou a ser impressa naquele estado durante a ditadura do Estado Novo, instaurada em 1937.
Às vésperas da Revolução de 1930, com o PCB sob rigorosa clandestinidade, Manoel recebia as matérias redigidas em um quartinho, na Vila Isabel, para a impressão na oficina no Largo de São Domingos, em Niterói, desconhecida até dos redatores. Quando a repressão fechou o cerco aos comunistas, foi enviado à Bahia para cuidar da impressão em Salvador.
No Rio de Janeiro, A Classe Operária depois de impressa seguia para o Mercado Municipal em caixotes misturados com outros que continham frutas e legumes, onde seria entregue ao estudante Mendes de Almeida, responsável por enviá-la a diversos pontos de distribuição. Ainda no Rio de Janeiro, o jornal chegou a ser impresso em Bangu – então conhecido como o “sertãozinho carioca” –, sob vigilância de uns enquanto outros operavam uma máquina barulhenta.
Os comunistas não haviam engolido o movimento que levou Getúlio Vargas à presidência da República e transitavam por uma via paralela à Revolução de 1930, preparando outro processo revolucionário, que seria consequência dos levantes tenentistas da década de 1920. A Internacional Comunista apoiou a ideia e, para comandar o Levante, enviou com Luiz Carlos Prestes alguns quadros experientes.
O Brasil estava diante de uma encruzilhada que refletia os conturbados anos iniciais da década de 1930. Cumpria à equipe d’A Classe Operária desvendar aquela intrincada conjuntura. Não era fácil. O documento Cinquenta anos de luta, escrito por Maurício Grabois e João Amazonas – históricos dirigentes comunistas –, sobre o cinquentenário do Partido Comunista do Brasil, em 1972, descreveu aquela situação como um “movimento ainda confuso por transformações democrático-burguesas”.
Amplos setores sociais que participaram da Revolução de 1930 estavam descontentes com o rumo do governo, o que acentuava a diferença entre forças progressistas e setores retrógrados, posição traduzida pelas poderosas greves que agitavam o país. Um agravante, afirma o documento, fora o aparecimento da Ação Integralista Brasileira, braço do nazifascismo no Brasil, que tentava tomar o poder apoiado em círculos do governo.
Os preparativos para a Segunda Guerra Mundial estavam em franco desenvolvimento. Enquanto a Alemanha de Adolf Hitler, cuja conquista do posto de chanceler — o cargo máximo do poder político naquele país — ocorreu em 1933, rangia os dentes para a União Soviética, o Partido Comunista do Brasil se preparava para impedir que a vaga nazifascista triunfasse em terras brasileiras. Orientado pela Internacional Comunista, propunha a formação de uma frente única para impedir o seu avanço. Assim, deu um grande passo adiante com a organização da Aliança Nacional Libertadora.
Esse patamar só foi atingido porque os comunistas romperam com o sectarismo que reinava até então, e que havia tornado o Partido uma espécie de seita.
O PCB ensaiava a aproximação com os militares rebeldes desde que havia adotado, no seu II Congresso, realizado em maio de 1925, a concepção dualista agrarismo e industrialismo, que correspondia às análises contidas no livro homônimo de Octávio Brandão, referência teórica do PCB ao lado de Astrojildo Pereira.
Redigido em 1924, Agrarismo e industrialismo só seria publicado em 1926 como “ensaio marxista-leninista sobre a revolta de São Paulo e a guerra de classe no Brasil”, conforme diz o subtítulo. Para Brandão, uma terceira revolta — a primeira fora o Levante do Forte de Copacabana em 1922 e a segunda o movimento de São Paulo e do Rio Grande do Sul de 1924 — deveria unir “o Exército e Marinha, o Rio e São Paulo, o sul e o norte, o proletariado, a pequena burguesia urbana e a grande burguesia industrial”. E ressalvava: “O proletariado entrará na batalha como classe independente, realizando uma política própria”.
João Quartim de Moraes diz, na obra A esquerda militar no Brasil – da Coluna à comuna, que a leitura de A Nação – jornal cedido pelo jornalista Leônidas de Resende para ser o primeiro diário comunista no Brasil entre 3 de janeiro e 11 de agosto de 1927 – dá uma clara ideia de como os comunistas começaram a construção de um dos mais decisivos processos revolucionários no Brasil. Da Coluna à comuna é questão de um passo, estampou o jornal em manchete de sua edição de 18 de janeiro de 1927, acompanhada de uma fotografia de Luiz Carlos Prestes. E o subtítulo dizia que o proletariado não se colocaria contra Prestes, mas o apoiaria contra o capitalismo.
Na edição de 24 de fevereiro, o jornal explicou o desdobramento da tática do PCB, que consistia em compreender a natureza das “duas espécies de revolução” em andamento — uma “militar-liberal” e outra “civil-comunista”. A primeira teria como frente de luta “o sertão” e a segunda “as assembleias operárias e políticas”. Para o jornal do PCB, “amanhã os dois fronts têm de se confraternizar (…), subordinando-se o liberal ao comunista”.
Prestes era a principal referência política da oposição na época, lendário como o Cavaleiro da Esperança depois que liderou a Coluna Invicta – assim chamada por nunca ter sido derrotada militarmente – entre 1925 e 1927. Astrojildo Pereira foi encontrá-lo em seu exílio na Bolívia. Deixou com ele livros marxistas e lhe falou dos planos dos comunistas para tomar o poder. Segundo Leôncio Basbaum, em seu livro de memórias, Uma vida em seis tempos, a delegação que representou o PCB na I Conferência Latino-Americana dos Partidos Comunistas, em Buenos Aires, fez uma série de contatos com Prestes, já abrigado na cidade, para convencê-lo a ser o candidato do PCB à presidência da República em 1930. Ele recusou.
Entre os dias 29 e 31 de dezembro de 1928, o PCB realizou seu III Congresso, em Niterói, e aprovou as resoluções ainda sob a influência da concepção da “terceira revolta”. Segundo os comunistas, havia uma conjuntura revolucionária, resultado da combinação da crise econômica em consequência da catástrofe na política do café com leite, do fracasso do plano de estabilização monetária e da instabilidade política vinculada à sucessão presidencial de 1930. As resoluções falavam de “uma terceira explosão revolucionária”, continuação mais ampla e radical dos movimentos anteriores, à qual toda a tática do Partido Comunista do Brasil deveria subordinar-se.
Prestes, adepto da ideia de que o Brasil precisava passar por reformas estruturais, também fora consultado por Getúlio Vargas para acompanhá-lo nos preparativos da Revolução de 1930. No final das contas, optou por um caminho próprio e, no começo de 1930, lançou o célebre Manifesto de Maio — no qual defendeu um governo baseado nos conselhos de trabalhadores da cidade e do campo, soldados e marinheiros — e criou a Liga de Ação Revolucionária.
O PCB recebeu o documento de Prestes com um misto de apoio e críticas. Para os comunistas, conforme nota publicada no jornal A Classe Operária de 5 de julho de 1930, o Manifesto desmascarava ainda mais o “caráter reacionário” da Aliança Liberal de Getúlio Vargas. “Para nós, o Manifesto representa apenas a comprovação mais segura do aprofundamento da marcha para a esquerda, agravada pela penetração cada vez maior dos imperialismos inglês e norte-americano”, dizia o texto.
Segundo o PCB, o documento de Prestes reconhecia, “sem confessar abertamente”, a “justeza da linha política do Partido Comunista”. Mais adiante, as críticas: “Nós temos o direito de pensar que Luiz Carlos Prestes seja de novo arrastado para o jogo da Aliança e do imperialismo. Sua categoria social, a pequena burguesia, suas ligações com os elementos reacionários da Coluna Prestes e com a Aliança Liberal, suas vacilações anteriores justificam essa nossa opinião, que temos o dever de apontar às massas”.
Essa dubiedade decorria de duas lacunas históricas, na visão de Grabois e Amazonas: a pouca experiência política da classe operária e o precário conhecimento do marxismo. Como consequência, o PCB não compreendeu aquele processo político e não descortinou naquelas lutas o movimento por transformações democrático-burguesas. Considerou que o proletariado nada tinha a ver com os fatos em desenvolvimento no país e adotou posições sectárias, ausentando-se da situação real. Aplicando mecanicamente as teses da Internacional Comunista, defendeu a criação de um governo apoiado em sovietes de operários e camponeses.
A nota que avaliou o Manifesto de Prestes terminou lançando o “grito de guerra” dos comunistas aos trabalhadores: “Organizai-vos e armais-vos! Apossai-vos de toda a terra! Confiscai-a! Dividi-a! Apossai-vos das empresas imperialistas! Dia de 7 horas! Aumento geral de salários! Dia de 6 horas para os menores e as mulheres! Pão e trabalho para os desempregados! Criai o governo operário e camponês, baseado nos Sovietes, isto é, nos Conselhos de Operários e Camponeses, Soldados e Marinheiros! Pela União das Repúblicas Soviéticas da América Latina!”.
Grabois e Amazonas interpretaram aquelas confusas posições dos comunistas como inclinações esquerdistas, que resultariam no afastamento do secretário-geral, Astrojildo Pereira. Ao fazê-lo, o PCB enveredou por um caminho errôneo, sectário, realizando uma campanha contra os “elementos” de origem pequeno-burguesa em favor de um pretenso modo de vida proletário. Via como causa da sua estagnação os indivíduos e não as concepções sectárias até então vigentes. Assim, não conseguiu sair do seu isolamento, ao passo que Vargas abria caminho para consolidar o seu governo, principalmente depois do levante de São Paulo em 1932, a chamada “Revolução Constitucionalista”.
De acordo com o documento Cinquenta anos de luta, o passo adiante só foi possível quando o PCB, ajudado pela política da Internacional Comunista que orientava a formação de frentes únicas contra o fascismo, decidiu fazer uma nova leitura da conjuntura. Assim, analisou relativamente bem a situação criada no Brasil, rompeu, em boa parte, com o sectarismo e se voltou para as massas ao dirigir greves importantes e promover ações contra o integralismo.
A política ampla, com o gume dirigido contra o fascismo e o imperialismo, levou à organização da ANL, que agrupou extensos setores populares e numerosos civis e militares que participaram da Revolução de 1930. Segundo Quartim de Moraes, o tenentismo tinha a esperança de fazer da Constituição de 1934 um instrumento de reforma política e cultural. Uma parte dos tenentes aderiu de vez ao governo Vargas e muitos ajudaram a fundar a ANL em 23 de março de 1935.
Na primeira reunião pública da ANL, realizada no teatro João Caetano, Rio de Janeiro, cinco dias após sua fundação, a presença popular mostrou a força que emergia dos propósitos da organização. Além dos problemas internos, o Brasil fora arrastado para a atmosfera cinzenta da Alemanha nazista e da Itália fascista. Seus propagadores brasileiros deram-lhe forma por meio da Ação Integralista Brasileira, chefiada nacionalmente por Plínio Salgado.
Em 23 de abril de 1933, inspirados nos fascistas e nos nazistas, os integralistas saíram às ruas de São Paulo em desfile e foram confrontados por operários. Do confronto surgiu o embrião da ANL. “Sinal dos tempos, este sangrento desfecho serviu apenas para reforçar, à direita, o prestígio dos integralistas e, à esquerda, a unidade de ação antifascista”, escreveu Quartim de Moraes.
A ANL surgiu dentro de uma ótica unitária e frentista, proposta por George Dimitrov no VII Congresso da Internacional Comunista, realizado entre 25 de julho e 20 de agosto de 1935. Segundo Quartim, o sucesso da ANL residia em “alargar mais ainda essa frente, atraindo em primeiro lugar os milhões de camponeses”.
Em 1935, o PCB não era mais aquele pugilo de revolucionários abnegados, político e ideologicamente claudicante, que se limitava à propaganda abstrata das ideias revolucionárias e a fazer agitação pouco compreensível às massas, desligada da vida. Como fiador da frente única, o Partido ganhara projeção nacional e aparecia como uma organização revolucionária que lutava pelo poder efetivamente popular. Mesmo na clandestinidade, conseguiu se organizar em todos os estados e o número de militantes cresceu com rapidez.
A evolução partidária se deu por um processo traumático. A I Conferência do PCB, realizada em Minas Gerais, entre 8 e 16 de julho de 1934, propôs-se a chacoalhar a militância comunista ao anunciar uma forte luta ideológica contra os portadores de teorias falsas, varrendo aventureiros e contrarrevolucionários que, aberta e disfarçadamente, entravavam a sua marcha.
Os informes publicados n’A Classe Operária e no Boletim de Organização (publicação interna do Partido) ainda refletiam certa confusão entre os comunistas. Falava-se em aplicação da “linha justa”, “proletarização” contra “os desvios graves da linha política do astrojildismo menchevista” e atacava o “prestismo” como “teoria pequeno-burguesa direitista, golpista, que deixa de ter fé no proletariado”.
Sinalizava, conforme o prolixo Manifesto da Primeira Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil ao proletariado, à massa camponesa, aos soldados e marinheiros, às nacionalidades e minorias nacionais escravizadas, a todo o povo oprimido e explorado do Brasil, o caminho para a libertação dos explorados e oprimidos da insuportável situação de miséria em que viviam, a luta contra a guerra imperialista, os golpes armados, a reação e o fascismo e pelo pão, pela terra e pela liberdade, não passava necessariamente por eleições.
Segundo o PCB, as eleições para a Câmara Federal e para as assembleias constituintes estaduais, marcadas para outubro de 1934, seriam “um compromisso entre as camarilhas dominantes, compromisso feito sob pressão das greves combativas e das lutas heroicas de massa que ora se desenrolam por todo o país”. Mesmo com o apoio a candidatos “proletários” em diversos estados, o parlamento era considerado “uma instituição burguesa e, portanto, reacionária”, um “instrumento de escravização material e política das massas operárias e camponesas pelos patrões e seu governo”. O caminho, dizia o documento, deveria ser o da “revolução operária e camponesa”.
Pouco antes da Conferência, em 20 de abril de 1934, o Birô Político do Partido discutiu e aprovou “a linha e o conteúdo” do documento A Luta Contra a Guerra Imperialista, a Reação e o Fascismo — Tarefa Imediata e Fundamental de Todo o Partido, que detalhou a “situação guerreira internacional” e afirmou que aquele quadro se refletia no Brasil, “um país semicolonial e de economia dependente do imperialismo”.
O documento orientava os comunistas a organizarem a luta contra a guerra no trabalho sindical, camponês, feminino e de juventude. O PCB dizia que os jovens, “presas da inquietação causada pela crise, sob o desespero da desocupação”, eram cada vez mais arrastados para o campo da exaltação nacionalista do fascismo e da guerra.
Logo após a Conferência, a manchete principal do jornal A Classe Operária reportou o Manifesto da Primeira Conferência Nacional do Partido Comunista do Brasil ao proletariado, à massa camponesa, aos soldados e marinheiros, às nacionalidades e minorias nacionais escravizadas, a todo o povo oprimido e explorado do Brasil. Sob o prolixo título do Manifesto, veio a lista de destinatários, uma imensidão de povo que incluía até vaqueiros, cangaceiros e coiteiros.
Segundo A Classe Operária, a Conferência realizou-se “através duma forte luta ideológica contra os portadores de teorias falsas no Partido”. Também tratou “amplamente” de “problemas que ainda não estavam bem esclarecidos nas fileiras do Partido — como a questão agrária, a questão nacional etc.”.
Luiz Carlos Prestes entrou para o PCB nesse clima, enfrentando resistências internas. Uma publicação de outubro de 1934, chamada Sentinela Vermelha, informava que o Birô Político havia discutido amplamente a proposta da Internacional Comunista de adesão de Prestes às fileiras do PCB. E um post scriptum, determinando a reprodução obrigatória e imediata a todas as bases para ampla discussão, com retorno urgente para o Partido da opinião de cada organismo.
O Partido estava saindo de suas posições estreitas, que empurravam gente para fora de seus quadros enquanto as greves se avolumavam, formando uma onda que varria o país. Segundo o Sentinela Vermelha, Prestes deixava de ser um “caudilho pequeno-burguês” e passava “a confiar nas forças do proletariado como única classe revolucionária e no seu partido, o PC”. Reconheceu “em vários documentos escritos todo o seu passado de erros” e vinha “demonstrando na prática a sua dedicação à causa revolucionária do proletariado, participando ativamente na construção do socialismo na União Soviética e, sobretudo, que a direção e as bases do PCB se fortificam ideologicamente”.
A adesão de Prestes, “como simples soldado” da Internacional Comunista, era importante “para o movimento revolucionário do proletariado no Brasil”. Vinha “desarmar todos os elementos oportunistas que exploram o nome de Prestes para trair as lutas das massas trabalhadoras das cidades e do campo, entravando a marcha da revolução agrária anti-imperialista, ou operária e camponesa, dirigida pela vanguarda revolucionária do proletariado, o PCB”.
Mas os comunistas precisavam “intensificar o fogo contra o prestismo dentro e fora de nossas fileiras”, contra a “teoria e prática” de ilusões em “chefetes e caudilhos pequeno-burgueses, ‘salvadores’, ‘cavaleiros da esperança’”. O Partido deveria fechar suas fileiras para a “ideologia prestista”. A entrada de Prestes coincidiu com a evolução das greves e da organização dos trabalhadores. A Classe Operária, que circulou em 23 de agosto de 1934, relata que entre abril e maio as cidades do Rio de Janeiro e Niterói foram paralisadas, impulsionando uma grande onda de greves em agosto.
Prestes desembarcou clandestinamente no Brasil, em 15 de abril de 1935, vindo da União Soviética, onde estava exilado, para liderar o Levante, já ocupando o posto de presidente de honra da ANL. A decisão fora tomada pelo Comitê Executivo Nacional da organização, que se reuniu pela primeira vez em 12 de março. Não demorou e ondas de povo acorreram para aquela organização, vista como algo novo, um caminho por onde poderiam canalizar seus anseios. Chegavam de forma espontânea, atraídas pelas narrativas que davam conta do Cavaleiro da Esperança novamente disposto a mudar a face do Brasil. Apinhavam-se para ouvi-lo dizer que estava iniciando uma nova jornada de lutas. No ato de 5 de julho de 1935 — aniversário dos levantes dos tenentes de 1922 e de 1924 —, um Manifesto de sua autoria foi lido pelo eloquente Carlos Lacerda, na sede da ANL. As palavras contagiaram o coração daquela multidão e se propagaram como descarga elétrica.
Foram palavras duras. Num dos trechos, o Manifesto dizia que no país estavam, de um lado, os libertadores, e, de outro, os traidores “a serviço do imperialismo”. Havia chegado o momento do assalto ao poder, porque o Brasil vivia uma situação de guerra. “Cada um deve ocupar o seu posto”, disse Prestes. O documento expressava o encontro de duas vertentes revolucionárias, ambas com raízes na década de 1920: o tenentismo e o PCB. O Brasil estava em estado de fervura.
Diante das palavras pesadas de Prestes, Getúlio Vargas recorreu à Lei de Segurança Nacional e decretou a ilegalidade da organização de massas que acabara de nascer. A repressão não arrefeceu os ânimos do PCB, cuja compreensão sobre o que estava sendo decidido era “a causa do Brasil e de todos os seus filhos”. “O Partido Comunista do Brasil apoia com todo vigor, firmeza e decisão, esse heroico movimento revolucionário”, dizia um documento divulgado logo após a decretação da ilegalidade da ANL.
Até mesmo a Internacional Comunista haveria de convir que aquelas proclamações do PCB demonstravam as condições para o Levante como fruto maduro. Era a hora de pôr as forças revolucionárias em ação, de fazer o que precisava ser feito. E foi feito: uma ação que marcou a história do país e desencadeou uma feroz repressão aos comunistas.
Na manhã de 26 de novembro de 1935, um dia antes da derrota dos rebeldes em Natal, os jornais deram grande destaque para a decisão do governo de decretar estado de sítio por trinta dias, em todo o país, para que o Estado pudesse “defender-se da insolência comunista”. Investido de poderes absolutos, o presidente da República desencadeou a repressão.
O chefe de polícia do Distrito Federal, Filinto Müller, determinou que o porte de armas estava proibido e que ninguém poderia sair da cidade do Rio de Janeiro sem autorização da Delegacia Especial de Ordem Social. As fichas policiais de membros ou simpatizantes da ANL foram transformadas em mandados de prisão. E o quartel-general da Polícia Especial, no morro de Santo Antônio, em centro de torturas.
No final do mês, milhares de pessoas já estavam presas em todo o país. Vargas jogava pesado. Em quatro vezes sucessivas, pediu — e conseguiu — ao Congresso que prorrogasse o estado de sítio por mais noventa dias. Prestes foi preso, em 5 de março de 1936, depois de uma caçada comandada por Filinto Müller que esquadrinhou o bairro do Méier e revistou casa por casa. Estava com a esposa, a alemã Olga Benário, que foi deportada grávida para a Alemanha nazista e, pouco depois de dar à luz Anita Leocádia Benário Prestes, morreu numa câmara de gás da cidade de Bernburg.
O Informe Sobre a Insurreição no Brasil, da seção brasileira do Socorro Vermelho Internacional, dirigiu, “por intermédio de suas coirmãs do exterior, um fraternal apelo à solidariedade internacional em favor dos bravos militares e populares revolucionários presos, suas famílias e os órfãos dos que tombaram”.
Outro Informe, assinado pela direção da ANL, divulgou uma longa lista de personalidades internacionais, e de vários comitês estrangeiros de solidariedade aos presos políticos, que haviam intercedido junto ao governo brasileiro pela libertação de Prestes. Entre eles, estavam os que organizaram o Levante no Rio Grande do Norte.